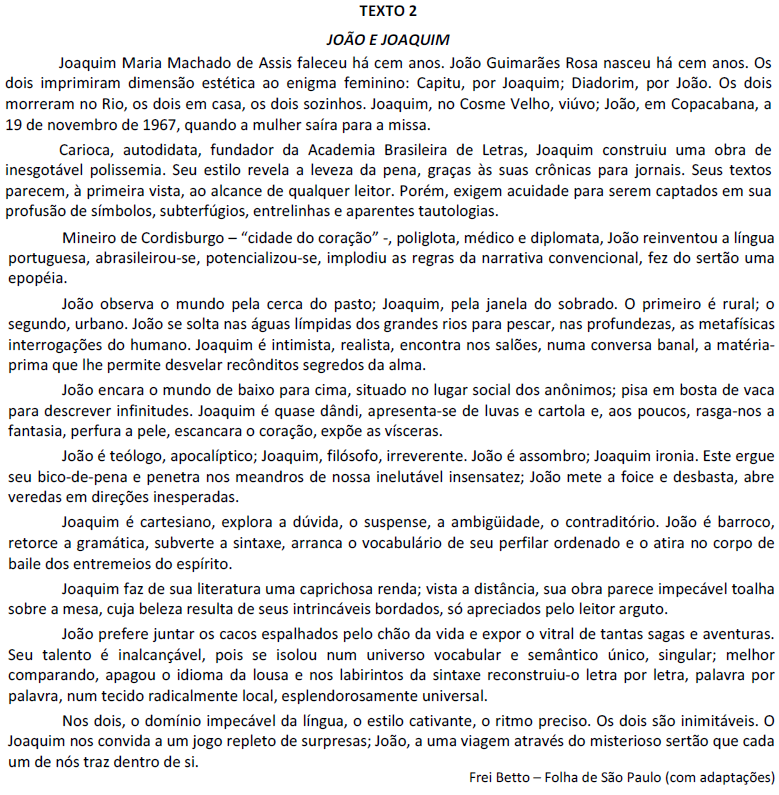Ainda no primeiro parágrafo, ao justificar seu ponto
de vista sobre as diferenças das visões de mundo, o
autor estabelece uma relação de


À margem de Memórias de um sargento de milícias
É difícil associar à impressão deixada por essa obra divertida e leve a ideia de um destino trágico. Foi, entretanto, o que coube a Manuel Antônio de Almeida, nascido em 1831 e morto em 1861. A simples justaposição dessas duas datas é bastante reveladora: mais alguns dados, os poucos de que dispomos, apenas servem para carregar nas cores, para tornar a atmosfera do quadro mais deprimente. Que é que cabe num prazo tão curto?
Uma vida toda em movimento, uma série tumultuosa de lutas, malogros e reerguimentos, as reações de uma vontade forte contra os golpes da fatalidade, os heroicos esforços de ascensão de um self-made man esmagado pelas circunstâncias. Ignoramos quase totalmente seus começos de menino pobre, mas talvez seja possível reconstruí-los em parte pelas cenas tão vivas em que apresenta o garoto Leonardo lançado de chofre nas ruas pitorescas da indolente cidadezinha que era o Rio daquela época. Basta enumerar todas as profissões que o escritor exerceu em seguida para adivinhar o ambiente. Estudante na Escola de Belas-Artes e na Faculdade de Medicina, jornalista e tradutor, membro fundador da Sociedade das Belas-Artes, administrador da Tipografia Nacional, diretor da Academia Imperial da Ópera Nacional, Manuel Antônio provavelmente não se teria candidatado ainda a uma cadeira da Assembleia Provincial se suas ocupações sucessivas lhe garantissem uma renda proporcional ao brilho de seus títulos. Achava-se justamente a caminho da “sua” circunscrição, quando, depois de tantos naufrágios no sentido figurado, pereceu num naufrágio concreto, deixando saudades a um reduzido círculo de amigos, um medíocre libreto de ópera e algumas traduções, do francês, de romances de cordel, aos pesquisadores de curiosidade, e as Memórias de um sargento de milícias ao seu país.
Paulo Rónai, Encontros com o Brasil. Rio de Janeiro:
Edições de Janeiro, 2014.
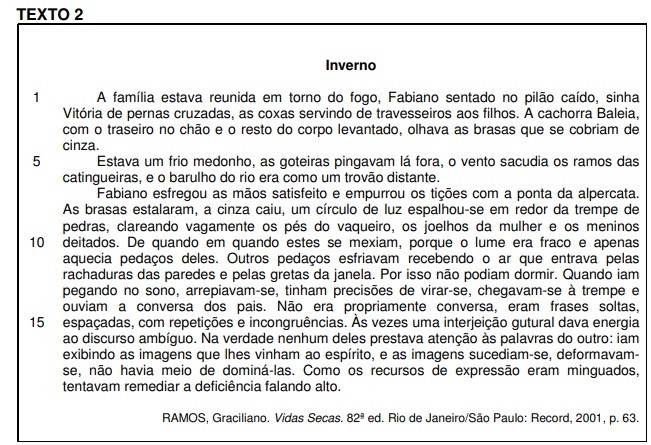



INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no texto.

Acesso em 29/8/2014.
INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no texto
Entre o espaço público e o privado
02 ressignificam o único espaço que lhes foi permitido
03 ocupar, o espaço público, transformando-o em
04 seu “lugar”, um espaço privado. Espalhados pelos
05 ambientes coletivos da cidade, fazendo comida no
06 asfalto, arrumando suas camas, limpando as calçadas
07 como se estivessem dentro de uma casa: assim vivem
08 os moradores de rua. Ao andar pelas ruas de São
09 Paulo, vemos essas pessoas dormindo nas calçadas,
10 passando por situações constrangedoras, pedindo
11 esmolas para sobreviver. Essa é a realidade das
12 pessoas que fazem da rua sua casa e nela constroem
13 sua intimidade. Assim, a ideia de individualização que
14 está nas casas, na separação das coisas por cômodos
15 e quartos que servem para proteger a intimidade do
16 indivíduo, ganha outro sentido. O viver nas ruas, um
17 lugar aparentemente inabitável, tem sua própria lógica
18 de funcionamento, que vai além das possibilidades.
19 A relação que o homem estabelece com o
20 espaço que ocupa é uma das mais importantes para
21 sua sobrevivência. As mudanças de comportamento
22 social foram sempre precedidas de mudanças físicas
23 de local. Por mais que a rua não seja um local para
24 viver, já que se trata de um ambiente público, de
25 passagem e não de permanência, ela acaba sendo,
26 senão única, a mais viável opção. Alguns pensadores
27 já apontam que a habitação é um ponto base e
28 adquire uma importância para harmonizar a vida.
29 O pensador Norberto Elias comenta que “o quarto
30 de dormir tornou-se uma das áreas mais privadas
31 e íntimas da vida humana. Suas paredes visíveis
32 e invisíveis vedam os aspectos mais ‘privados’,
33 ‘íntimos’, irrepreensivelmente ‘animais’ da nossa
34 existência à vista de outras pessoas”.
35 O modo como essas pessoas constituem o único
36 espaço que lhes foi permitido indica que conseguiram
37 transformá-lo em “seu lugar”, que aproximaram, cada
38 um à sua maneira, dois mundos nos quais estamos
39 inseridos: o público e o privado.
RODRIGUES, Robson. Moradores de uma terra sem dono.
(fragmento adaptado) In: http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/
ESSO/edicoes/32/artigo194186-4.asp.
Acesso em 21/8/2014.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão, analise a frase “Mas a sabedoria fundamental – no sentido mais substantivo desse adjetivo – da filosofia grega é incontornável” (linhas 21 a 23) e preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso), considerando o contexto.
( ) O “mas” redireciona o desenvolvimento argumentativo, estabelecendo uma oposição entre o que se modificou e o que não pode ser modificado.
( ) O trecho entre travessões apresenta um comentário de natureza metalinguística e poderia ser deslocado para o fim da frase, com os devidos ajustes na pontuação, sem alteração no sentido do texto.
( ) A palavra “substantivo” está empregada, no contexto, com o sentido de “essencial”, “inerente”.
( ) O adjetivo “incontornável” enfatiza a ideia de que nem tudo o que diz respeito à moral é flexível.
O correto preenchimento dos parênteses, de cima para
baixo, é