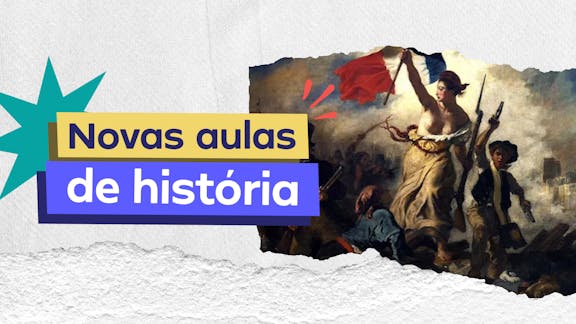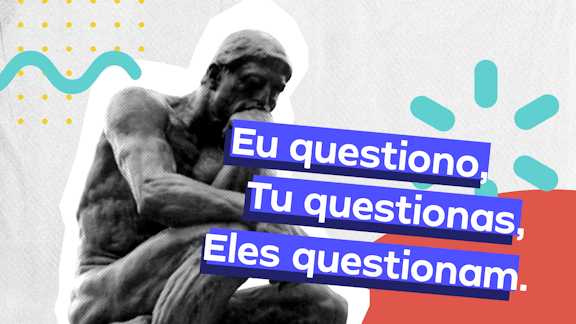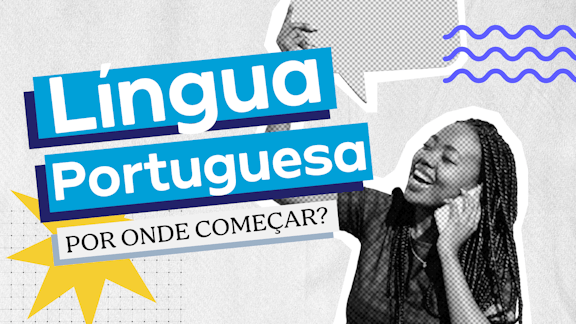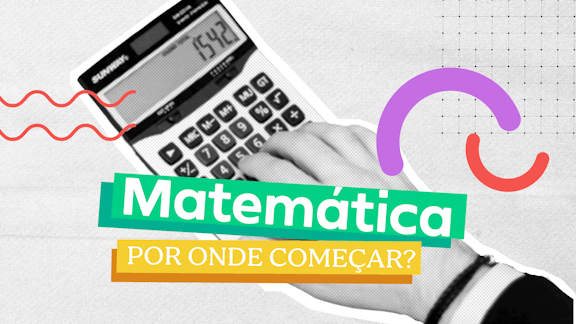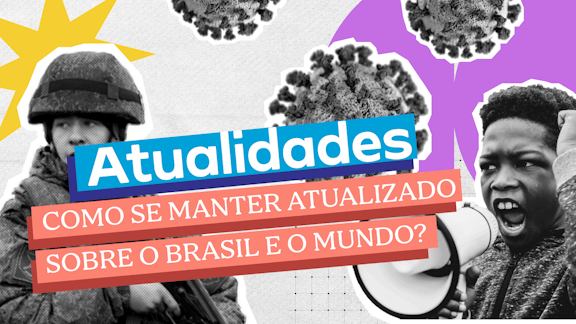De acordo com os autores do texto, João José Reis e Eduardo Silva, assinale a alternativa
incorreta.
Leia atentamente o texto para responder à questão.
“A unidade básica de resistência no sistema escravista, seu aspecto típico, foram as fugas. (...)
Fugas individuais ocorrem em reação a maus tratos físicos ou morais, concretizados ou
prometidos, por senhores ou prepostos mais violentos. Mas outras arbitrariedades, além da
chibata, precisam ser computadas. Muitas fugas tinham por objetivo refazer laços afetivos
rompidos pela venda de pais, esposas e filhos. (...) No Brasil, a condenação [da escravidão] só
ganharia força na segunda metade do século, quando o país independente, fortemente
penetrado por ideias e práticas liberais, se integra ao mercado internacional capitalista. (...)
“Tirar cipó” – isto é, fugir para o mato – continuou durante muito tempo como sinónimo de
evadir-se, como aparece no romance A carne, de Júlio Ribeiro. Mas as fugas, como tendência,
não se dirigem mais simplesmente para fora, como antes; se voltam para dentro, isto é, para o
interior da própria sociedade escravista, onde encontram, finalmente, a dimensão política de
luta pela transformação do sistema. “O não quero dos cativos”, nesse momento, desempenha
papel decisivo na liquidação do sistema, conforme analisou o abolicionista Rui Barbosa”.
REIS, João José. SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 62-66-71.
Gabarito comentado
Alternativa correta (incorreta segundo o enunciado): E
Tema central: resistência escrava no Brasil — sobretudo as fugas (individuais e coletivas), suas motivações e a mudança de caráter da resistência no século XIX, com deslocamento para ações dentro da sociedade escravista (incluindo espaços urbanos) e a crescente contestação do sistema até sua liquidação.
Resumo teórico claro: Fugir era a forma mais comum de resistência; podia ser reação a maus-tratos, tentativa de reconstituir vínculos familiares rompidos pela venda ou opção por comunidades alternativas (quilombos). No século XIX, com a penetração de ideias liberais e a integração ao mercado capitalista, a naturalização da escravidão foi sendo contestada — as cidades e a própria sociedade tornaram-se cenários de lutas e negociações que contribuíram para a abolição (cf. Reis & Silva, 1989; menção a Rui Barbosa sobre o “não quero dos cativos”). A abolição formalizou-se com a Lei Áurea (13/05/1888), fruto de processos sociais e políticos complexos.
Por que a alternativa E é a INCORRETA: A frase “A naturalização do sistema escravista se manteve estável durante o período colonial e o imperial” contraria diretamente a análise dos autores: a naturalização foi enfraquecida ao longo do século XIX por ações internas de resistência, mudanças econômicas e circulação de ideias liberais. Logo, afirmar estabilidade contínua é incorreto.
Por que as outras alternativas estão corretas (logo, não são a resposta pedida):
A: As fugas tiveram motivações variadas, inclusive relacionadas ao tráfico interprovincial e separação familiar — está de acordo com o texto.
B: No século XIX, a luta não se resumiu aos quilombos; havia fugas individuais, resistência urbana e formas diversas de contestação.
C: As cidades tornaram-se espaços relevantes para disputas políticas e sociais pela abolição — leitura alinhada ao trecho sobre “voltar para dentro”.
D: Reconhecer os escravizados como agentes históricos (e não apenas mão de obra) é princípio central da nova historiografia da escravidão e está presente no texto.
Dica de prova: em questões sobre processos históricos, identifique termos absolutos (sempre, nunca, estável) — costumam indicar alternativa falsa. Relacione períodos (colonial vs. imperial) com mudanças econômicas e ideológicas apontadas pelo enunciado.
Fontes citadas: Reis & Silva, Negociação e conflito (1989); referência legal: Lei Áurea, 13/05/1888; menção histórica a Rui Barbosa.
Gostou do comentário? Deixe sua avaliação aqui embaixo!