Em qual das alternativas abaixo, a palavra “que” está sendo utilizada como pronome relativo, iniciando uma
oração subordinada adjetiva explicativa?


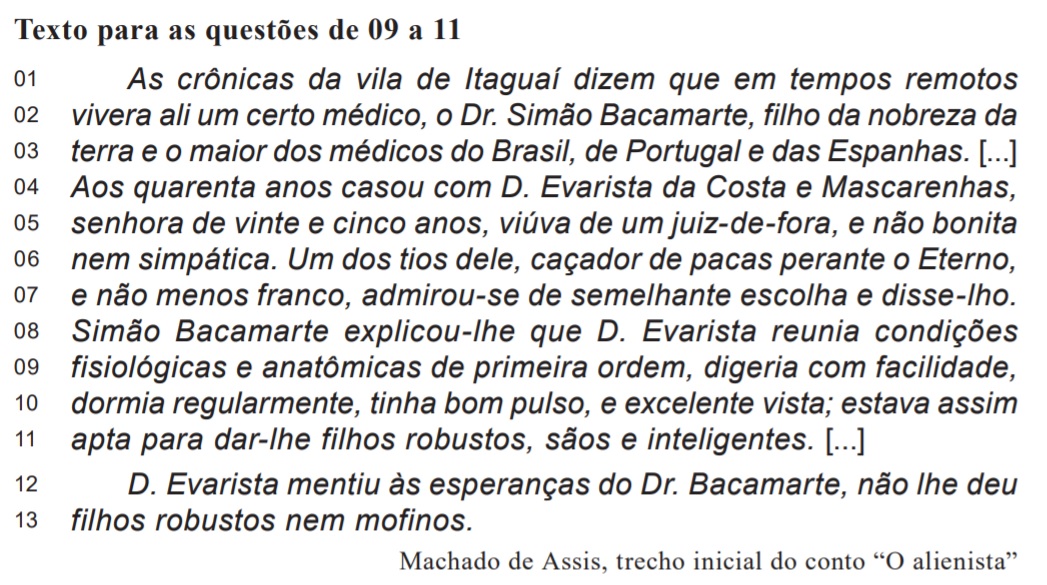
Atente para o que se diz sobre o seguinte excerto e alguns de seus elementos: “A felicidade ilumina o rosto de Pedro Bala. Para ele veio também a paz da noite” (linhas 121–122).
I. A partícula “também”, no trecho transcrito, indica que alguém sentira aquela paz antes dele, sugere, portanto, inclusão.
II. O pronome “ele” refere-se a “o rosto de Pedro Bala”.
III. O verbo “iluminar” foi empregado no sentido de tornar claro. Está correto o que se diz apenas em
Texto 2
(O texto 2 foi extraído da obra Capitães da areia, de Jorge Amado, que conta a triste história de um grupo de crianças e adolescentes que vivem na rua, conhecidos como “capitães da areia”. À noite, recolhem-se para dormir num velho trapiche abandonado. O grupo pratica pequenos furtos para sobreviver, e seus membros se unem para defender-se da perseguição da polícia. Quando presos, são encaminhados para reformatórios, onde sofrem toda sorte de abusos.
O grupo, formado somente de meninos, recebeu, um dia, uma menina chamada Dora, de treze para catorze anos, cuja mãe morrera. Com o irmão, Zé Fuinha, ela foi para a rua, onde conheceu a turma dos Capitães da Areia e nela se integrou. Dora, uma menina loura e bonita, disposta para o trabalho, acabou conquistando todos: era mãe para os pequenos, e amiga e irmã para os mais velhos, alguns dos quais se apaixonaram por ela. Mas ela amava mesmo era o chefe dos Capitães, o valente Pedro Bala. Presa e recolhida a um orfanato, até que o namorado a resgatasse e a levasse para o velho trapiche, adoeceu e morreu. Horas antes de morrer, pediu a Pedro Bala que a fizesse mulher. Ele hesitou porque a via muito doente, mas, por fim, atendeu ao seu pedido. Na manhã seguinte, ela estava morta.
O capítulo que você vai ler narra a reação desesperada de Pedro Bala logo depois que levam o corpo de sua amada para alto mar, onde finalmente repousará.)


Polivalência: do mito... para a realidade
A modernidade, ao flexibilizar a divisão de tarefas no interior dos processos produtivos, estaria cumprindo com o papel de substituir o desqualificado e descomprometido “apertador de parafusos” por um funcionário que pensa e molda seu próprio emprego, à medida em que é chamado a experimentar novos métodos de trabalho capazes de garantir ao mesmo tempo a sua realização pessoal e o crescimento da empresa. Desta forma, graças à polivalência, o ser humano estaria deixando de ser um mero apêndice das máquinas para reencontrar no trabalho o caminho de sua própria humanização.
Mas será que é isso mesmo? Com a polivalência, o capital estaria mesmo abrindo mão da crescente submissão do homem à máquina que, aliás, é um dos elementos que lhe garantem a progressiva exploração da força de trabalho? A polivalência que tem sua origem na flexibilização e na automação dos processos produtivos estaria gerando uma maior qualificação do trabalhador coletivo?
O novo trabalhador, a ser moldado de acordo com as necessidades dos sistemas informatizados, teria que ser jovem, polivalente, sem tradição de luta, com estudos que lhe fornecessem conhecimentos gerais mais amplos (o segundo grau, por exemplo) ou, no limite, as noções técnicas básicas que podem ser assimiladas através dos cursos de SENAI.
Ou seja, o perfil da grande maioria dos trabalhadores, que do final da década de 80 até os nossos dias começam a compor o quadro de funcionários das grandes empresas, tem como traços fundamentais a ausência de uma militância política e de uma qualificação efetiva, ao lado de uma bagagem de conhecimentos que serve apenas para proporcionar-lhes uma leitura rápida e segura das informações que aparecem nos sistemas de controle dos equipamentos automatizados e para garantir uma rápida operacionalização das ordens recebidas.
Se tivermos que descrever em poucas palavras o perfil de um trabalhador polivalente, diríamos que ele não passa de um “pau pra toda obra” que, diante do aumento do desemprego e da ameaça constante que isso traz à manutenção de suas condições de vida, percebe uma sensação de alívio ao aderir, ora ativa ora passivamente, aos objetivos e aos limites impostos pela lógica das mudanças no interior do sistema capitalista. Lógica que tem na polivalência e na flexibilização dos processos de trabalho dois importantes instrumentos para ocultar a continuidade histórica da necessidade da classe dominante ir adequando a organização do trabalho às exigências da acumulação do capital e para apagar nas classes trabalhadoras a memória coletiva de sua tradição de lutas e, com ela, a necessidade de construir uma nova ordem social.
(GENNARI, Emílio. Automação, Terceirização e Programas de Qualidade Total: os fatos e a lógica das mudanças nos processos de trabalho. São Paulo: CPV, 1997. Adaptado)




Texto 1
Coragem

MEDEIROS, Marta. A graça das coisas. Porto Alegre - RS: L&PM, 2014, p. 90-91.
A respeito do título, é correto afirmar que
I. “Onde mora sua muiteza?” dirige-se à Alice fictícia, e o pronome possessivo “sua” remete claramente a essa personagem.
II. “Onde mora sua muiteza?” dirige-se, através do pronome possessivo “sua”, ao(à) leitor(a) implícito(a) do texto.
III. o pronome relativo “onde” e o verbo “morar”, no título, estão sendo empregados de forma coloquial. Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
Texto 1

LHULLIER, Luciana. Onde mora sua muiteza? In: No coração da floresta (blog). 08 out. 2013 (adaptado).
Original disponível em: <https://contesdesfee.wordpress.com/page/2/>
TEXTO 2
A “A língua dos índios é muito rudimentar”
Assim como outros mitos, esse aqui já começa completamente equivocado. Sua formulação já é, de saída, imprópria: não há uma “língua dos índios”. Há, na verdade, diversas línguas indígenas, faladas por diferentes comunidades indígenas. E nenhuma dessas línguas é “rudimentar”, em qualquer sentido que se possa pensar. As línguas indígenas são extremamente complexas – tão complexas quanto qualquer outra língua natural, como o português, o francês, o chinês ou o japonês.
Para tentar desconstruir a primeira parte deste mito (sobre haver apenas uma única “língua dos índios”), precisamos falar um pouco sobre a variedade linguística reinante entre as populações indígenas brasileiras.
Hoje, no Brasil, são faladas cerca de 180 línguas indígenas, por cerca de 220 povos indígenas. Por trás desse número, devo fazer algumas ressalvas. Em primeiro lugar, todo e qualquer método de contagem de línguas é impreciso por natureza, já que os limites entre língua e dialeto são corredios. O critério normalmente utilizado para afirmar que determinada língua é, de fato, uma língua e não um dialeto de uma outra – não é um critério de natureza estritamente linguística, mas de viés marcadamente político. Daí por que, entre os sociolinguistas, se diz que “uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha”.
Além de o critério de contagem das línguas, em especial o de línguas indígenas, não ser preciso e uniforme, há ainda a questão que envolve a destruição das culturas indígenas, e, consequentemente, o desaparecimento de suas línguas. Se hoje temos cerca de 180 línguas indígenas faladas no Brasil, estima-se que, em 1500, à época da chegada portuguesa em terras brasileiras, o número era de 1.270 línguas, ou seja, um número sete vezes maior. Além de o número total de línguas ter sido drasticamente reduzido – e, com isso, o número de populações indígenas – todas as línguas indígenas brasileiras podem hoje ser consideradas línguas ameaçadas.
Isso significa que, a cada ano que passa, podemos perder uma língua no país. É uma perda terrível, não só para a linguística, mas para o patrimônio mundial cultural e humano. Quando uma língua deixa de existir, perdemos mais do que um sistema de comunicação complexo e estruturado; perdemos uma maneira de ver e de compreender o mundo.
Gabriel de Ávila Othero. Mitos de Linguagem. São Paulo: Editora Parábola, 2017, p. 109-111. (Adaptado).